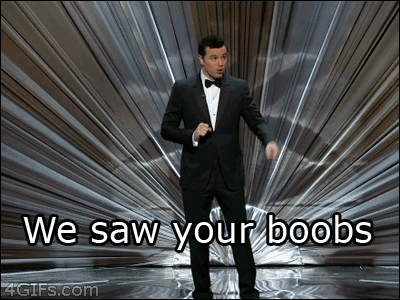2014
em 10 filmes.
Seguindo o padrão da
lista do primeiro semestre, ou seja, só entraram filmes que estrearam
comercialmente no Brasil em 2014. Como alguns não possuem crítica no blog
resolvi deixar comentários sobre todos. Em outros casos, como
“Boyhood”, pretendo fazer uma crítica mais detalhada no futuro. Dessa vez
resolvi enumerar os filmes por favoritismo, refletindo as obras que considerei
as melhores de 2014, que tirando uma bomba cá e lá (Nolan, estou falando de
você) certamente foi um ano bacana para o cinema.
10)
Avanti Popolo:
Entrincheirado em uma
história de perda e dor entre pais e filhos, a estreia em longa-metragem de
Michael Wahrmann é um exercício audacioso de cinema político que usa narrações
em over, filmagens de Super 8 e metalinguagem cinematográfica para criar
imagens assombrosas da não presença de um filho desaparecido. Avanti Popolo é politizado sem soar panfletário, priorizando seus
personagens-fantasmas e buscando a comunhão natural dos homens.
9)
Quando Eu Era Vivo:
Outro filme assombrado por uma presença invisível, Quando
Eu Era Vivo é um dos filmes brasileiros que mais remete ao gênero horror . Aqui existe toda uma escavação arqueológica em busca do passado,
fazendo-o vir à tona com uma força agressiva que induz a imagem a um estado
constante de paranoia. O filme de Marco Dutra é um artefato interessante do
novíssimo cinema brasileiro e uma obra vital para amantes do horror.
8)
A Imagem que Falta:
O exorcismo de demônios
do diretor Rithy Pahn é a prova do poder cinematográfico de dar voz aos
silenciados ou mortos por um regime ditatorial e fascista. Admitindo ser
incapaz de achar a imagem que tanto procura, o filme de Pahn não deixa de ser
menos impressionante em suas recriações de maquete, na sua conquista social e
em seu caráter melancólico.
7)
O Homem Duplicado:
O filme de Denis
Villeneuve é um suspense psicológico fascinante. Metade simbologia, metade
sonho Lynchiano, O Homem Duplicado
mantém sua imagem envolta em névoa e em frieza para entrar na psique de seu protagonista . Uma história surreal sobre sexo, desejo e medo.
6)
Amantes Eternos:
A geração
desinteressada e pessimista condensada na forma de vampiros cools e condenados ao tédio. Jim
Jarmusch fez um filme gótico e nostálgico sobre o amor como força redentora.
Divido entre a catarse dos vícios e o silêncio opressor que se segue, Amantes Eternos mostra que o veterano
diretor ainda carrega em si a jovialidade de suas primeiras obras e fez um
filme clássico sobre vampiros, mas que soa fortemente contemporâneo em sua
abordagem.
5)
Nebraska:
Alexander Payne
certamente se beneficiou das rugas de Bruce Dern para criar esse Road Movie
empoeirado. Sem dramalhões e com bastante humor, Nebraska é um drama pungente de personagens carismáticos que
depositam o peso de uma vida em uma história triste sobre os rumos que a vida
toma. Pra ser visto com a família.
4)
Sob a Pele:
Apoiado na beleza fria
da alienígena demasiadamente humana (Scarlett Johansson), Sob a Pele causou furor excessivo pelas
cenas de nudez de sua protagonista, porém nada foi colocado como gratuito. Seus
closes expressivos, sua Mise en scène minimalista e sua trilha sonora cheia de
chiados, tudo se conecta para criar um filme estranho e sobre estranhos em um mundo desolado e amedrontador que suga Scarlett em uma jornada barulhenta ao
caos social e emocional.
3)
Eles Voltam:
Mais de seis meses após
seu lançamento, Eles Voltam só amplia seus horizontes. Em meio a comentários sociais, Marcello Lordello faz da
jornada de sua protagonista Cris uma narrativa sobre amadurecimento e sobre o
papel de cada um no mundo. Dificilmente uma obra consegue ser tão sutil em
mostrar as nuanças e contradições da sociedade brasileira e nesse sentido, Eles Voltam é essencial não somente
para os interessados em “coming of age movies" como também para se discutir questões
nacionais contemporâneas.
2)
Boyhood:
Se por um lado parece
fácil encher de elogios devido aos 12 anos de filmagens que esse filme teve,
por outro é difícil ignorar a maneira como Boyhood
foi produzido e como sua narrativa reflete tal método. Em seus 12 anos, há um
filme de momentos, despretensioso e relaxado sobre amadurecimento. Obviamente,
o crescimento do ator principal influenciou nas cenas, mas o caráter naturalista
aproxima o filme de um documentário caseiro em 12 partes. Apesar dessas partes estarem pouco preocupadas em compor uma narrativa de começo, meio e fim,
cada uma consiste em um pequeno grande curta metragem. Doze obras-primas que
chegam perto da verdade maior que destrói a barreira imposta de documentário e
ficção em um filme que merece ser revisitado sempre.
1)
Vidas ao Vento:
O canto de Cisne do gênio da animação japonesa, Hayao Miyazaki vai permanecer em minha memória cinéfila por anos. Essa ode ao espirito humano e seu poder em realizar sonhos é apenas ameaçado por suas consequências. Miyazaki reflete amargamente as contradições da vida, ao mesmo tempo em que não deixa de perceber uma beleza no cenário de guerra em que o protagonista se encontra. É preciso sabedoria e humanidade para se criar imagens que transitam entre o belo e o grotesco de maneira tão sutil quanto as de Miyazaki. Vidas ao Vento é cinema em estado de sonho, livre e meditativo. Não há erros, Miyazaki é um Sensei, tão hábil na arte de criar imagens que seu ultimo filme ainda consegue surpreender e fazer sonharmos tudo novamente. Essencial.
Links IMDB: